Feminicídio é o segundo principal fator de morte entre quilombolas, aponta estudo da Conaq e Terra de Direitos

No dia 8 de março, em que se comemora a luta e resistência das mulheres em todo o mundo, mulheres quilombolas trazem para o centro do debate a necessidade de se enfrentar o machismo e a violência de gênero nos territórios.
Dados de pesquisa realizada pela Terra de Direitos e pela Coordenação Nacional de Articulação de Quilombos (Conaq), Racismo e Violência contra Quilombos no Brasil, que está em sua segunda edição, mostra dados de diversos tipos de violência contra quilombos no período entre 2018 a 2022, entre eles o aumento do número de feminicídios, o segundo principal fator de morte entre quilombolas.
Dos 32 assassinatos registrados, nove são de mulheres que foram mortas pelo atual ou ex-companheiro. Segundo o levantamento, “a análise do tipo de motivação do crime revela que os conflitos fundiários rurais são a principal causa de assassinato de quilombolas. Ser mulher é a segunda principal causa”.
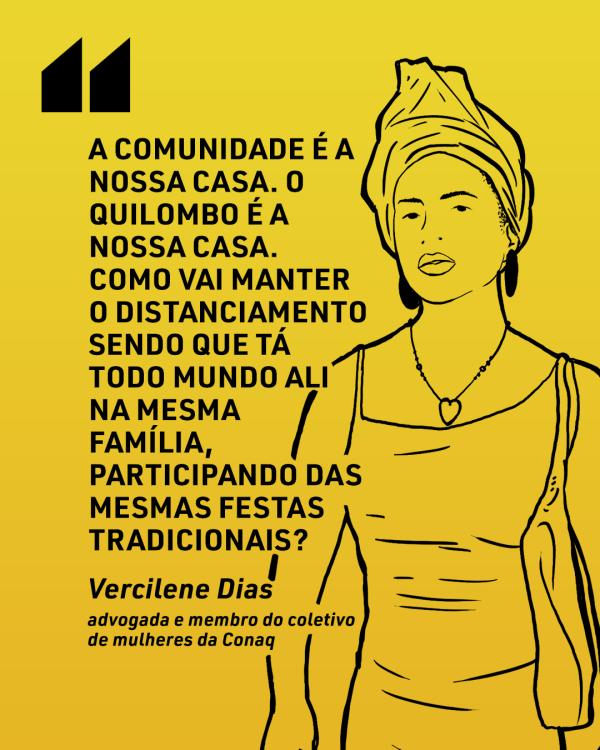
Vercilene Dias, advogada e membro do coletivo de mulheres da Conaq, também é voz ativa contra a desigualdade de gênero entre quilombolas. “O machismo, o patriarcado, essa construção social de que o homem é o chefe da casa, o chefe da família. Acho que essa é uma das grandes questões que influenciam isso e que precisa ser desconstruída nas comunidades”, reflete.
“A gente precisa entender que nós estamos em uma sociedade machista e os quilombolas não estão fora disso, porque também cresceram nesse mesmo contexto social. Tudo isso é herança do que os brancos colocaram na nossa cabeça. A gente discute muito isso, como, por exemplo, a questão da punição por você ser um rebelde, a questão das surras, que no tempo da escravidão eram utilizadas como punição pra quem ia contra o sistema, quem ia contra os seus senhores. Então, tudo isso é herança que a gente tem e que a gente precisa corrigir”, reforça.
Leia também:
#ElasQueLutam: Vercilene Dias, da comunidade Kalunga (GO) ao STF!
A pesquisa realizada por Conaq e Terra de Direitos mostra que a proporcionalidade de mulheres quilombolas assassinadas neste período dobrou desde a última edição, realizada entre 2008 e 2017, que registrou a morte de oito mulheres no período de dez anos. As organizações compreendem que as violências contra as mulheres são reflexo da luta política desempenhada por elas nos quilombos em defesa do território e da sobrevivência das comunidades.
“Na verdade, nada justifica a violência praticada contra nenhum ser humano e, no caso em questão, contra as mulheres. Mas a gente fica se perguntando de onde vem esse sentimento tão cruel que letrado ou não, estudante ou não, tem no seu comportamento esse desejo de resolver o que julga ser problema, o que acha que tem que ser resolvido, na base da violência, na base da agressão, na base da desvalorização da mulher”, diz a ativista quilombola Maria Aparecida Mendes, que investigou as manifestações do machismo em territórios tradicionais em sua dissertação de mestrado “Marias Crioulas: Emancipação e Alianças entre Mulheres no Enfrentamento à Violência Doméstica em Comunidades Tradicionais”.
Durante sua pesquisa para a dissertação, e em sua própria vivência, ela identificou a influência da religião na manutenção dos papéis de gênero e de violência doméstica. “Eu lembro que muitas pessoas chegavam lá em casa, especialmente as senhoras que estavam na igreja, e falavam: ‘é, minha filha, a gente sofre muito, mas a gente tem que ter fé em Deus, porque Ele quer assim. Entender que Deus vai cuidar e que é o único jeito que a gente tem de alcançar o reino dos céus’. Então quando eu escuto as pessoas com esse discurso conformista, eu vejo aí a influência da religião mesmo”.
Perfil dos casos e das vítimas
O mapeamento identificou que a maioria dos casos dos assassinatos de mulheres quilombolas foram cometidos com armas brancas (faca, foice, machado ou chave de fenda) ou com métodos de tortura, indicando um componente de crueldade nas mortes. Também apontou que a região com o maior número de casos foi o Nordeste, onde está o maior número de quilombos do país. Foram seis casos registrados nos estados do Rio Grande do Norte, Pernambuco, Maranhão e Bahia. Além disso, a maioria dos crimes foi cometida na casa das próprias vítimas.
Dados do Painel de Violência contra a Mulher, publicados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) em 2023, mostraram que, no Brasil, 49,9% dos feminicídios são cometidos por meio de armas brancas; 69% são cometidos em residência; 53,6% pelo companheiro e 19,4% pelo ex-companheiro, e 61,2% são cometidos contra mulheres negras.
Múltiplas violências
A pesquisa realizada por Conaq e Terra de Direitos aponta que territórios em situação de conflito e vulnerabilidade estão mais suscetíveis a situações de violência.
“Um território em situação de vulnerabilidade, que vive em conflito com interesses de terceiros sobre a posse da terra, dizimado cotidianamente por ameaças de desintegração, como poluição dos rios, comprometimento das atividades de subsistência, falta de acesso à educação e a serviços básicos de saúde, possivelmente terá situações de violências a multiplicarem-se em seu interior. A violência institucional, ao bloquear sistematicamente o acesso a bens e recursos, gera formas endêmicas de violência das quais a violência doméstica faz parte.” (Racismo e Violência contra Quilombos no Brasil - Volume 1, 2023).
Além do racismo estrutural e institucional, as mulheres quilombolas também precisam lidar com o machismo. Muitas vezes a sua vontade de estar à frente da luta acaba sendo abafada porque o companheiro não aceita.
“Pelo simples fato de serem mulheres, as quilombolas que assumem posições de liderança política nos seus territórios expõem-se mais facilmente à violência doméstica ao desequilibrarem o que seriam considerados papéis de gênero tradicionais nos relacionamentos. Não à toa, relatos dos assassinatos indicam situações de raiva ou ciúme, demonstrando também a violência como exercício desmedido de controle sobre o corpo e a liberdade das mulheres”. (Racismo e Violência contra Quilombos no Brasil - Volume I, 2018).
O fato de desafiarem a lógica patriarcal no que diz respeito às posições de liderança dentro dos territórios também esbarra no trabalho fora do ambiente doméstico. Dados divulgados pelo IBGE nesta sexta-feira sobre a 3ª edição da pesquisa “Estatísticas de gênero: indicadores sociais das mulheres no Brasil” mostram que 26,6% de mulheres pretas ou pardas não estavam em treinamento, ocupadas ou buscando trabalho.
Esse dado indica uma relação direta com as horas dedicadas aos cuidados de pessoas e/ou afazeres domésticos. Em 2022, foram 21,3 horas semanais que as mulheres gastaram nessas atividades, quase o dobro do tempo dos homens. Também verificou-se 1,6 hora a mais por semana nessas tarefas no grupo de mulheres pretas ou pardas em contraste com as mulheres brancas.
Medo como fator predominante
Apesar do alto índice de violência doméstica e de feminicídios, os números ainda não traduzem a realidade, e o medo é o principal fator para as subnotificações. De acordo com Vercilene Dias, muitas quilombolas não denunciam por medo da violência do Estado.
“Muitas vezes, as mulheres chegam nas delegacias e recebem um tratamento de mais violência. Também, tem as situações que muitas vezes ficam ali acobertadas porque elas não querem ficar mal faladas na sociedade, e isso é um contexto muito geral em relação às mulheres que passam por isso nas comunidades. É muito mais violento, porque você sofre em silêncio, e o silêncio é mais uma forma de violência”, lamenta.

Em sua dissertação, Maria Aparecida Mendes também apontou o medo como fator comum entre as mulheres quilombolas. Ela entrevistou mulheres do Quilombo Conceição das Crioulas e de comunidades em outras regiões do país também, como Bahia, Pará e Goiás. “Todas têm medo de denunciar. Todas têm resistência. Esse é um comportamento comum de todas elas. As mulheres em contexto comunitário não denunciam seus agressores”, confirma.
“Pessoas quilombolas vivem em comunidade, então têm o receio de denunciar o companheiro e a polícia chegar lá e ter mais violência, não ter o tratamento adequado, ainda mais por se tratar de território quilombola, que é território de conflito”, conta.
Segundo Dias, “muitas vezes as mulheres até querem denunciar, mas não vão à delegacia. Elas vão na promotora de justiça no fórum, porque elas acham que o recebimento delas pode ser melhor do que ir em uma delegacia, que tem um contexto muito machista. Geralmente, os encaminhamentos desse tipo são muito ruins, porque não tem um procedimento específico, aplicam a Lei Maria da Penha de forma geral, sem abarcar o contexto da comunidade”.
Particularidades dos quilombos
Além do medo de passar por violência institucional e por constrangimento, as mulheres quilombolas também enfrentam uma situação muito particular: a vivência em comunidade.
“De certa forma, nas comunidades você tem um contexto diferente. Você vive em comunidade. Como você vai manter o distanciamento, por exemplo? Como vai colocar uma medida protetiva pro companheiro de não ir na sua casa ou encontrar com você, se vocês vivem dentro da mesma comunidade? A comunidade é a nossa casa. O quilombo é a nossa casa. Como vai manter o distanciamento sendo que tá todo mundo ali na mesma família, participando das mesmas festas tradicionais?”, questiona Dias.
“São várias situações que simplesmente uma abordagem policial não dá conta. Aí tem as casas abrigo, mas como que tira uma pessoa da comunidade? Como tirar uma liderança da comunidade e levar pra uma casa onde ela vai sair do convívio da família, aí como fica num caso desse? É preciso que levem em consideração essas situações”, pondera Mendes.
Vercilene Dias faz parte do coletivo de mulheres quilombolas da Conaq, que reúne mulheres quilombolas do Brasil todo e pretende ampliar a discussão sobre a Lei Maria da Penha dentro dos territórios.
“Pra justamente colocar essas questões, discutir com as mulheres que passam por essa situação o que pode ser feito. Fazer com que elas conheçam a lei e o que que pode ser feito pra melhorar ou especificar o contexto das mulheres quilombolas.”
Redes de apoio

Maria Aparecida Mendes tem 53 anos, é quilombola de Conceição das Crioulas (PE), mãe de uma filha, avó de dois netos e filha de agricultores. Faz parte da luta quilombola de forma mais intensa desde o final dos anos 1990, e começou no ativismo no Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais do Sertão Central (MMTR).
A ativista se casou aos 18 anos e, durante 20 anos, sofreu diversas violências domésticas, como conta em sua dissertação. “Durante vinte anos da minha vida, eu sofri todo tipo de violência física e psicológica que se possa imaginar. Das cinco vezes de gestação, somente a primeira filha sobreviveu, os dois seguintes eu perdi em virtude das agressões físicas e, nas duas últimas gestações, sofri abortos espontâneos. Entre todas as lembranças, as mais dolorosas são as perdas dos meus bebês, além das muitas vezes em que fui espancada e em seguida estuprada”.
O processo de libertação de ‘Cida’, como gosta de ser chamada, começou por meio da leitura. “Eu gostava muito de ler. Eu lembro que li duas histórias que me marcaram demais, a história de Benedita da Silva, que eu desenvolvi uma admiração muito grande por ela. Uma mulher aguerrida, determinada, que passava por todo tipo de situação, mas nada fazia com que ela desistisse”, recorda.
“Depois eu também fiz a leitura de Machado de Assis, que me ajudou demais. Então eu fui procurando ouvir pessoas, ouvir histórias de pessoas que superavam dificuldades. Então nas dificuldades que eu passei, sempre tive expectativa de que um dia iria superar. Mas quem me deu força mesmo, quem me ajudou mesmo a enfrentar as situações de violência que eu vivia, foi o movimento de mulheres trabalhadoras rurais do sertão pernambucano. Eu tenho o costume de dizer que essas mulheres me salvaram.”
Cida começou a participar dos encontros e com isso passou a enfrentar mais situações de machismo, porque o ex-marido não permitia que ela saísse de casa. “Eu fui me rebelando e tomei uma decisão. Se eu saísse de casa eu ia sofrer agressão, se eu ficasse em casa eu ia sofrer agressão. Então eu saí”.
Diferente de muitas mulheres, o medo foi motivador para que ela saísse da situação de violência. Também o contato com as histórias das outras mulheres, a fez enxergar que não estava sozinha. “Quando a gente se isola dentro de casa, a gente acha que o nosso problema é o único problema do mundo, mas quando eu saí e comecei a ouvir outras histórias, apesar dos absurdos, também eram histórias de superação, cheias de altivez, de potência. E eu ali, caladinha, só me espelhando”, afirma.
“Depois de 20 anos de casada eu me separei, casei de novo e hoje tô solteira. Mas eu saí de todas essas situações de relacionamento abusivo porque eu fui acolhida. Eu digo que eu só consegui porque fui acolhida. E é isso que a comunidade tem que fazer, é isso que a sociedade tem que fazer, é isso que o Estado tem que fazer. É acolher e adotar estratégias para que a mulher se sinta encorajada a enfrentar de forma inteligente”.
Dias também destaca a importância da construção de redes, para que as mulheres não precisem passar pela situação de violência sozinhas. “E a gente tem feito muito isso também pelo coletivo de mulheres, tem feito esse socorro nesse sentido. Não deixá-las passar por esse momento sozinhas, de estar junto, de buscar o melhor caminho, inclusive pro próprio violentador, que muitas vezes não tem o conhecimento específico do que é a violência doméstica”, diz.
“Rede, orientação, formação são caminhos importantes. Mas acho que o principal é o cuidado das redes de mulheres. Então eu acho que a melhor forma de tratar isso é formação, é educação, porque a questão do machismo é uma questão social. Não é só um problema de quilombola, um problema da mulher, e a gente precisa tratar disso como uma questão social que precisa ser resolvida”.








 Carregando
Carregando