#ElasQueLutam! Comunicadora, ativista e uma das principais artistas visuais indígenas da atualidade, ela leva adiante os saberes do seu povo com criatividade, força e beleza
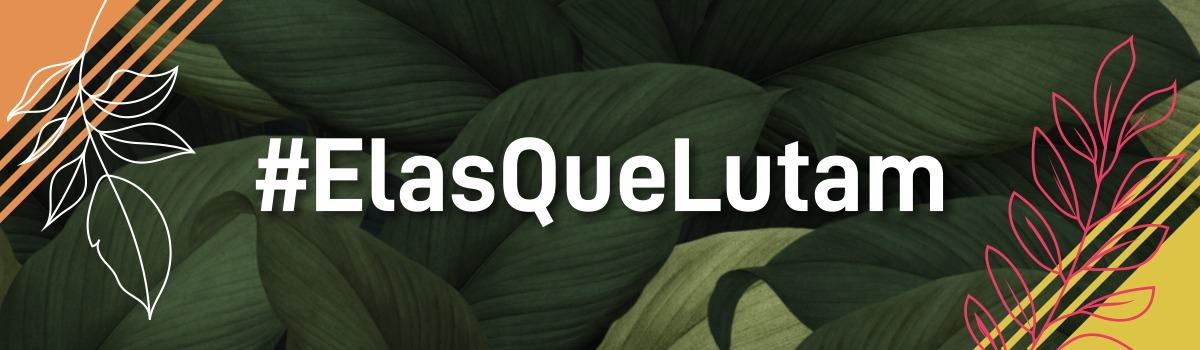
“Daiara, de origem Nambikwara, quer dizer ‘minha amiga’; e Hori quer dizer ‘desenho, luz, cor e miração [na língua Tukano]'”, conta. “Eu desenho desde antes do que me lembro por mim”.
A arte corre pelas veias de Daiara Hori desde o princípio, como não poderia deixar de ser com um nome tão significativo. Nascida em São Paulo, no início dos anos 1980, ela ainda se recorda do primeiro rabisco: um quadrado em giz de cera, que a mãe fez questão de guardar. “Sempre fui uma pessoa tímida e eu passava meu tempo, na minha solidão, desenhando”, explica. “[É] a imagem que eu tenho da infância: desenhando, em cima de uma árvore ou lendo em algum canto”.
Ela não teria como saber lá atrás, mas essa relação tão íntima e carinhosa com a plataforma só poderia crescer com o tempo. Quase quarenta anos depois, ela se estabelece como uma das mais proeminentes artistas visuais indígenas da atualidade, agora mais conhecida por Daiara Tukano.

“Esse perfil sempre esteve presente na minha vida”, Daiara relembra, contando que, nos primeiros anos da adolescência, era ela quem fazia a capa do jornal estudantil. “No segundo grau, eu me dediquei mais a pintar. Fui experimentar mais técnicas e estudar artes plásticas. É muito gostoso não apenas estudar a história da arte e das artistas, mas principalmente quantas maneiras você tem de brincar com imagem, com som, com corpo, com essas histórias”, conta.
Mais tarde, ela continuou seus estudos na Universidade de Brasília (UnB), onde se formou em Artes Visuais, período de extrema importância para seu crescimento enquanto artista e mobilizadora cultural. “Fui monitora de desenho, anatomia artística, ilustração científica, figurino, iluminação e maquiagem”, recorda.
Fora da sala de aula, também foi presidente do Centro Acadêmico, diretora do Circuito Universitário de Cultura e Arte da União Nacional dos Estudantes (UNE) e coordenadora de artes visuais do Coletivo Palavra, grupo de produção artística urbana e multimídia de Brasília. “[Estava] nesse meio jovem, universitário, da cidade, conhecendo muitas pessoas e aprendendo a fazer junto”, diz.
Mas foi nessa época, também, que Daiara começou a se aproximar da cultura do seu povo, os Yepá Mahsã, ou Tukano, uma das 23 etnias que vivem na região do Rio Negro, no Amazonas. Seu pai tinha muito o que transmitir aos filhos e ela, a primogênita, demonstrou curiosidade e interesse em aprender.
“A gente começou a fazer cerimônias, a virar a noite ouvindo as histórias da criação, ouvindo ele cantar, também tomando o Kahpi”, relembra. “É como se fosse uma graduação dentro da própria cultura. E de repente eu fui me dando conta de quantas histórias eu já conhecia e o quão mais complexas elas eram quando eu parava para pensar sobre elas”.

A experiência com o Kahpi (nome dado pelos Yepá Mahsã ao cipó da ayahuasca), em particular, deu outros rumos para sua arte. A planta é central para a cosmologia Tukano, afinal, foi a partir dela que surgiu a humanidade e todo conhecimento a ela associado: os diversos povos, as diferentes línguas, os cantos, as artes - tudo vem junto ao nascimento do Kahpi, contam os indígenas. Provar a ayahuasca e mirar o mundo sob o efeito dela pela primeira vez abriu todo um universo para Daiara.
“Eu fiquei muito tocada, encantada, chocada. Foi muito revelador ter essa sensação, essa evidência, de como a nossa cosmovisão é real. Não é um mito, não é uma maneira poética de falar as coisas. É aquilo mesmo”, afirma.
A partir de então, ela passou a experimentar com luzes e cores, pesquisar as origens e significados dos grafismos dos povos rionegrinos, observar as tramas das cestarias e padrões das cerâmicas, bancos e malocas e infusionar seu trabalho com os hori, ou mirações, que ela enxerga a partir do Kahpi.
“A miração é uma visão que a gente vê e não vê, é uma visão espiritual, pode ser uma visão do sonho, intuitiva, da imaginação”, explica. Desde 2013, ela desenvolve a série Kahpi Hori, onde busca justamente apreender em tela essas visões, a partir de padrões geométricos, cores vibrantes e feixes de luz.
A cada passo dado, mais claro ficava aquilo que ela já sabia desde pequena: os Yepá Mahsã são um povo que desenha no mundo. “Eu vim de uma panela de ayahuasca cheia de desenhos e essa panela é o Alto Rio Negro”, sublinha. E é através da sua arte que Daiara resgata esse saber e o passa adiante.
“Estou aproveitando para contar essas histórias, mas também para imaginar como é andar nesse mundo”, comenta. “Nós, povos indígenas, precisamos usar todas as plataformas possíveis para fazer a [nossa] valorização. Então, para mim, pintar é uma celebração desse mundo da transformação, esse mundo Tukano”.
Entre prédios e museus
Enquanto conversava com o Instituto Socioambiental (ISA), Daiara preparava uma série de obras para a exposição Amõ Numiã, em cartaz até 11 de março na Galeria Millan, em São Paulo. Ao redor, oito telas verticais tomavam as paredes, do teto ao chão, representando as figuras femininas que são parte das histórias da criação Tukano; matriarcas cujas histórias, segundo a artista, são pouco contadas ou somente em espaços reservados.
“Cada um desses desenhos tem um motivo, uma história,” ressalta, apontando elementos característicos da cultura e ancestralidade do seu povo. “[É importante] celebrar e conhecer profundamente cada um desses significados, para que a gente possa reconhecê-los quando estão ali presentes. Essa é uma maneira de construir uma arte que é Tukano para os Tukano. Não é só para mostrar para o branco – é uma arte que é nossa”.

Ao mesmo tempo, Daiara assina a curadoria da mostra Nhe’ẽ Porã: Memória e Transformação, disponível até 23 de abril no Museu da Língua Portuguesa, também em São Paulo – uma coletânea de áudios, fotos históricas, peças de artesanato, vídeos e estações interativas que convidam a mergulhar no patrimônio linguístico e cultural dos povos originários, reflorestar os pensamentos e ouvir suas palavras com mais respeito.
Leia mais:
Resistências indígenas ocupam Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo
As duas exposições estão entre as mais recentes com a presença de Daiara. Elas ilustram a crescente abertura da cena cultural às vozes e sabedorias indígenas no Brasil, e ajudam a demonstrar uma outra vertente de seu trabalho: o da arte enquanto política.
“Na história da arte do Brasil, a figura do índio é a de um índio morto ou ajoelhado em frente da cruz”, assinala. Ela recorda particularmente da primeira vez que entrou na Pinacoteca do Estado de São Paulo, onde, em 2020, participou da mostra Vexoá: Nós Sabemos, e viu, com seus próprios olhos, a escultura de Moema, uma menina indígena representada morta na praia, nua e sensualizada. “É um negócio tão grotesco, tão brutal, e ainda sendo celebrado daquele jeito [pelas galerias e museus]”.
Por isso, ela reflete, é tão importante adentrar e dialogar criticamente com espaços que, tradicionalmente, relegaram aos povos indígenas uma imagem de morte, sujeição e colonização.
“Essas narrativas são armadilhas, então, a gente tem que aprender a desarmá-las e também montar armadilhas para os outros caírem na nossa onda”, aponta. “A nossa arte é uma grande armadilha para permitir que o nosso mundo respire. Uma armadilha que convida à nossa cosmovisão, a romper com narrativas eurocêntricas, a ouvir e falar outras línguas, que são as línguas originárias”.
Para além de exibir suas obras em museus e outros espaços clássicos da cena artística brasileira – que também incluem, por exemplo, a 34ª Bienal de Arte de São Paulo, o Centro Cultural São Paulo (onde assinou a exposição individual Pameri Yukese, Cobra-Canoa da Transformação), e o Museu Nacional da República (onde participou da mostra Brasil Futuro: as formas da democracia) –, Daiara também assina intervenções urbanas de grande porte.

Em 2020, ela se tornou conhecida como a artista indígena a pintar o maior mural de arte urbana do mundo, chamado Selva Mãe do Rio Menino, como parte do Circuito Urbano de Cultura e Arte de Belo Horizonte (CURA). No meio da Avenida Amazonas, a obra apresenta a colorida imagem de uma mãe-floresta carregando seu filho, o menino-rio, no colo, a qual ocupa mais de 1000 metros quadrados da parede lateral do Edifício Levy, o mesmo onde nasceu o Clube da Esquina de Milton Nascimento.
Como o prédio que iria pintar estava localizado em Minas Gerais, estado com um histórico de mineração predatória e onde o crime de Mariana havia poucos anos antes matado o Rio Doce, Daiara quis trazer esse passado como inspiração para o desenho que criaria. “Eu lembro do Ailton [Krenak] falando do Rio Doce como um avô; e eu pensava sempre no meu avô e o imaginava criança, brincando no rio”, diz. “[Então me veio] a figura desse rio, que é avô, também [ter sido] um menino. E esse menino tem mãe, que com certeza é a floresta, porque o rio só brota na floresta”.
E acrescenta: a intervenção mineira foi tão bem recebida que crianças reproduzem seu desenho na escola e a marcam nas redes sociais quando a obra aparece ao fundo em dias de marchas pela Avenida Amazonas. “Não dá para falar daquele prédio sem falar de Mariana, do Rio Doce, da luta do movimento indígena, de outros artistas indígenas também. Então, isso me move muito”.
Num ambiente também repleto de monumentos dedicados aos colonizadores, Daiara marca a ancestralidade indígena na paisagem da cidade – ela também assina o mural Alento, em São Paulo. “Já que não temos como fazer esculturas gigantes com as nossas lideranças, pelo menos pintar prédios nós estamos conseguindo”, ri
Comunicação, militância e arte
Certa vez, o xamã Davi Kopenawa, do povo Yanomami, pegou Daiara pela mão e a apresentou como uma “fruta da nossa luta”. Ela explica a metáfora: “nossos avós foram para a roça, plantaram uma árvore, aí nossos pais cuidaram daquela árvore, e ela deu fruta. Essa fruta deu muito trabalho para manter viva, ter saúde, ter acesso à educação, se munir de armas, mas agora ela está madura”, conta. “Nós somos a fruta da luta de muitas gerações antes de nós”.
Filha de um líder Tukano e uma antropóloga, Daiara nasceu literalmente dentro do movimento indígena. No início dos anos 1980, época de intensa mobilização em favor dos direitos indígenas que antecede a construção da Constituição Federal de 1988, ela já participava, ainda bebê, de encontros e articulações, observando as lideranças e aplaudindo as conversas, mesmo sem saber exatamente o que tudo aquilo significava.
“Tem uma hora em que você começa a entender um pouco mais a dimensão da violência, da dor, que faz com que essas pessoas se conheçam, se reúnam, lutem juntas. E também [como] essa dor, essa violência, deixam marcas nas nossas vidas”, reflete, lembrando de como passou os primeiros anos da infância longe dos pais por conta desses caminhos ativistas e riscos à sua segurança.
Porém, como era de se esperar, essas influências foram essenciais para a sua formação enquanto jovem ativista. “A gente cresce e tenta somar de algum jeito. Eu, pessoalmente, escolho contribuir [por meio] da comunicação, da cultura [e] da arte”, afirma. Ela também completou um Mestrado em Direitos Humanos e Cidadania pela UnB, com estudo sobre o direito à memória e à verdade dos povos indígenas e sua relação com o ensino brasileiro.

Após se graduar, Daiara lembra que foi trabalhar como professora de artes em escolas públicas de Brasília. Foi nessa época que sentiu com mais força o peso do racismo. “Eu tinha que ouvir perguntas dos colegas, dos alunos, e todo dia lidar com ignorância, com preconceito”, lembra. “Foi muito chocante. E aí eu sempre ficava procurando como falar com essas pessoas de maneira criativa”.
Na internet, se deparou pela primeira vez com portais criados pelos próprios parentes, para discutir suas pautas – caso da Rádio Yandê, a primeira web rádio indígena do Brasil, pela qual se apaixonou perdidamente. Não só a Yandê era feita pelos indígenas e para os indígenas, ela não se debruçava apenas sobre as pautas de luta e violência, mas também sobre outras expressões culturais, como música, cinema e literatura, tão essenciais quanto.
“Eu era super fã da Yandê, mostrava na escola, e uma vez eu mandei mensagem para eles, elogiando, agradecendo. E alguém me respondeu: ‘a gente também adora o seu trabalho, será que você não quer se juntar à nós?’”, conta.
Ali, Daiara iniciou um caminho de colaboração com a Yandê que duraria seis anos. Em Brasília, virou jornalista e passou a cobrir reuniões das lideranças com órgãos indigenistas e mobilizações na capital. “Eu imprimi um crachá de imprensa, plastifiquei, botei no pescoço e conseguia furar os bloqueios policiais, entrar nos lugares”, recorda. Também se tornou articuladora cultural e apresentadora, organizando espaços de diálogo com parentes que eram músicos, professores, antropólogos, advogados, os quais transmitia ao vivo no Facebook.
Mais tarde, assumiu a coordenação da rádio. Foi nessa época, quando a pandemia de Covid-19 impediu a realização do Acampamento Terra Livre, que ela organizou o Abril Indígena, um mês inteiro de programação sobre os mais variados temas, de saúde à educação, passando por sexualidade, espiritualidade, arte e empreendedorismo.
A experiência com a Yandê, diz Daiara, demonstra a grande proximidade que ela vê entre comunicação, militância e arte. Foi pela rádio, por exemplo, que ela introduziu discussões que a interessavam profundamente, mas com poucorespaldo no movimento indígena brasileiro – como as experiências de resistência de povos em outros países latinos e norte-americanos e temas como apropriação cultural e altos índices de suicídio entre indígenas.
“A estratégia mais eficiente para a gente combater a violência é a cultura, é a arte”, sublinha a artista – que, em 2021, foi indicada ao Prêmio PIPA, o mais relevante das artes visuais brasileiras. “[São elas] que levantam a autoestima dos jovens, que começam a reconhecer seu lugar, a valorizar sua história e a querer construí-la junto com as gerações que vêm antes, para aquelas que vêm depois. A arte é política”, finaliza.
#ElasQueLutam é a série do ISA sobre mulheres indígenas, ribeirinhas e quilombolas e o que as move. Acompanhe no Instagram!





 Carregando
Carregando